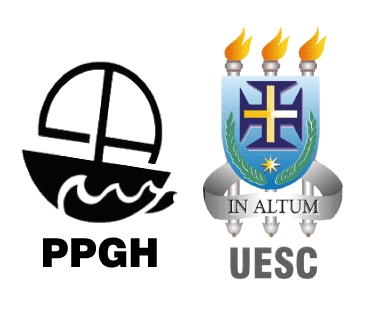Por Michael Silva Roseno
Uma das prerrogativas da ciência histórica é analisar determinado fato a partir da premissa de que este encontra-se localizado num certo espaço e em dada temporalidade. De um lado, o tempo está presente de forma explícita na pesquisa histórica, posto que a análise do historiador o coloca sob fragmentos da época referente ao seu objeto. Por outro, essa análise é feita de acordo com o espírito da época à qual pertence o pesquisador.
“Nunca na história desse país”, ou melhor, em nenhuma época da história do Homo Sapiens, as existências e os cotidianos estiveram tão repletos de imagens. O anseio por representar acompanha a espécie humana desde, pelo menos, os intrigantes tempos das cavernas. Desde que saiu de lá até os tempos atuais, notamos uma sofisticação dos meios de expressão imagética. Não apenas dos aparelhos em si, mas também da própria imagem.
Diante disso, é cada vez mais frequente o interesse dos historiadores pelas imagens, tão influenciados por seu tempo. Elas possibilitam outras análises, ou ainda, outras histórias., como pensava o historiador Marc Ferro (1992) acerca da utilização dos filmes para a pesquisa histórica. Ferro acreditava que o filme “[…] fala de outra história”, o que ele chamou de “[,,,] contra-história, que torna possível uma contra-análise da sociedade.” (FERRO, 1992 apud KORNIS, 1992, p. 244).
Intrigado pelas representações da região cacaueira baiana, localizada no Sul do estado – território onde nasci e cresci –, no filme Os deuses e os mortos, apresentei ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Santa Cruz (PPGH/UESC) um projeto de pesquisa que propunha analisar o retrato da sociedade cacaueira desenhado por Ruy Guerra nessa produção lançada no ano de 1970. O presente texto foi escrito a partir de componentes específicos desta pesquisa. Neste caso, o componente escolhido para a realização desta produção textual foi a paleta de cores do filme. Num primeiro momento, dissertarei sobre essas cores, vinculando-as a outros elementos do próprio filme como, por exemplo, os cortes, personagens e enquadramentos. Numa segunda parte, vincularei a importância das cores para esse filme ao contexto de sua filmagem e lançamento: poucos meses após o Ato Institucional nº 5 (AI-5), conhecido como “o golpe dentro do golpe”. O próprio diretor admitiu que por conta da restrição de liberdades, inclusive de expressão, era feito “[…] um cinema inteiramente de metáforas visuais.” (GUERRA, 2002, p. 66).
CORES DE SHAKESPEARE, CORES DE RUY GUERRA, CORES…
“Quero a cana, o bagaço,
quero a dama, o palácio
e um começo nas terras do sem fim
Quero um pedaço desse chão,
quero o ‘zói’de Lampião
pra ‘alumiar’ o lugar de onde eu vim.”[1]
Os artefatos culturais são produtos de uma determinada época e determinada sociedade. A partir desta assertiva, podemos assegurar que a importância do filme para o trabalho do historiador não pode mais estar limitada ao debate que gira em torno da veracidade ou não de determinadas imagens. Em se tratando de alguns filmes do Cinema Novo, movimento que emergiu na década de 60 buscando a renovação da linguagem cinematográfica no Brasil, as imagens de algumas produções dessa época com temática nordestina recorrerão a um conjunto de discursos e imagens já cristalizados. Isso porque “[…] quando não são adaptações para o cinema de romances produzidos pela geração de 30, buscarão nestes romances suas imagens e enunciados mais consagrados […].” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 297).
O cangaço, a seca, o messianismo, a violência etc., são alguns dos temas que aparecem nas imagens que acompanham boa parte das representações acerca da região Nordeste. Vários destes elementos estão presentes no filme Os deuses e os mortos. Não por acaso, sua principal fonte de informações acerca da sociedade e da região cacaueira foi a obra de Jorge Amado, com destaque para o romance Terras do Sem Fim, que versa sobre a “conquista” da mata na região de Sequeiro Grande, uma das melhores áreas para o plantio de cacau, segundo o romance. Parte dessa região integra, hoje, a área territorial do município de Itajuípe, onde foram gravadas boa parte das cenas de Os deuses e os mortos, além de locações feitas em Ilhéus, Itabuna e Rio do Braço.
Não se trata de uma adaptação literal. Ou seja, o filme não é uma adaptação do romance na íntegra. Ruy deu outros nomes aos seus personagens, narrou sua história do seu jeito, coloriu de outras tonalidades a aquarela da ‘saga’ do cacau no Sul da Bahia. Representou seu ponto de vista. Mas não tinha como fugir da influência de Jorge Amado, até porque a obra deste autor é “[…] uma das responsáveis pela inclusão da região do cacau na geografia imaginária da Bahia […]” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 245), pois “[…] a ideia de Nordeste já cristalizada, não incorporava ainda a Bahia […]” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 245), sendo esta pensada como unicamente “[…] sendo só a região do Recôncavo, polarizada por Salvador […]”. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 245).
A abertura, de forte tonalidade marrom e embalada pela voz de Milton Nascimento, evoca o processo de fabricação do chocolate, produto feito a partir das amêndoas de cacau. Elas aparecem borbulhando, fervendo. Pelo impacto do filme, talvez não lembremos mais da abertura durante o seu decorrer, mas o prosseguimento da história sugere um outro sentido para a abertura: é a região do cacau, seu chão e sua gente que estão em ebulição, pois esse cenário “[…]afora sua conotação industrial, é imagem que transmite sensações, expondo um material em crise porque submetido a um excesso de energia, sua cor e movimento já rimando com o teor dos dramas.” (XAVIER, 1997, p. 134).
Após a abertura e a apresentação dos créditos, podemos ver um plano aberto com homens perfilados numa árvore, os quais sugerem a ideia de abutres à espera de uma refeição. Tal como outras cenas do filme, o formato de quadro é explícito, fazendo lembrar o caráter estático das personagens e das condições de vida daquele povo. Na cena seguinte, estamos na caatinga, onde perante uma multidão de retirantes um motorista de caminhão pronuncia, com tons messiânicos, que “o sol endoidou de vez”[2] , fazendo surgir “cupim na alma da caatinga”. Ele promete levar aquelas pessoas para o Sul, onde “tem um lugar que é todo verde: chuva, mata, os frutos pesando na árvore, pedindo braço, dinheiro fácil”. Note que o lugar anunciado como oposição àquele empoeirado e de vegetação árida é representado ao espectador por uma cor: o verde.
Na cena seguinte, dois motoristas conversam num posto de gasolina sobre o destino de seus passageiros. Um deles afirma que vai pra São Paulo, enquanto o outro é enfático: “cacau”. Nesse diálogo, podemos perceber localidades que são apresentadas como refúgio para os migrantes fugidos da seca. São Paulo, historicamente, de forma geral, no imaginário social, tem um significado de emprego, renda e urbanidade. Em oposição ao sertão, colocado, de modo generalista, como o atraso, lugar do desemprego e do arcaísmo das relações rurais. São Paulo e “cacau” definem dois lugares ao Sul. Mesmo que o filme trate das relações políticas, econômicas e sociais na região cacaueira, o ponto de partida é o sertão, pois “[…]a imagem do Nordeste passa a ser pensada sempre a partir da seca e do deserto, […]a retirada, o êxodo que ela provoca, estabelece uma verdadeira estrutura narrativa” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 138).
Na primeira cena referente à região do cacau, Ruy Guerra parece querer propor uma outra imagem de Sul. Este não é o lugar de salvação onde os migrantes encontrarão oportunidades para a melhoria de vida. Quem “apresenta” este Sul da Bahia ao espectador são as figuras enigmáticas que dão nome ao filme: os deuses e os mortos. A presença destas figuras “[…] imprime uma tonalidade de impureza ao espaço da cena e sugere relações que só se tornam menos enigmáticas mais adiante, na medida em que cadáveres seminus e tinta vermelha vão ganhando destaque” (XAVIER, 1997, p. 137). Após isto, estamos numa cena no meio da mata. Dois jagunços (um deles, interpretado por Milton Nascimento) estão próximos ao cadáver de um padre assassinado por eles, até que veem um homem caminhando nos trilhos do trem. A personagem de Milton (Dim-Dum) ressalta que o homem “não é daqui”, colocando sob este um rótulo de estranho, ou estrangeiro.
Estrangeiro assim como Ruy Guerra. Estrangeiro como o antropólogo Claude Lévi-Strauss que, enquanto olhava a Baía de Guanabara, disse que a localidade “lhe parecia uma boca banguela”, conforme canta a música “O estrangeiro”, presente no álbum homônimo de Caetano Veloso. Após o homem levar os tiros, esperamos sua queda. Mas o diretor parece querer chocar, não apenas com as imagens. Ruy é daquele estilo de cineasta que considera a narração da história tão importante quanto as temáticas abordadas. Neste filme, a montagem – recurso de narração no cinema – realiza cortes abruptos em determinadas cenas, evocando o ritmo da própria lavoura cacaueira: alternância entre boas safras e períodos de crise.
Com o corte nesta cena, somos apresentados a Sereno, cujo marido trabalhava para o Coronel Santana da Terra e foi morto pela família que rivaliza com esse coronel pelo controle político da região – os D’Água Limpa.
Agora, podemos ver o homem caído. Sua boca aparentemente não é banguela, mas deixa escorrer um fio de sangue que, em contato com o chão, sugere uma relação de cumplicidade entre o homem e aquele lugar, a qual se intensificará ao longo do filme. Mesmo estando em ambiente de mata, naturalmente verde, a fotografia continua marcada por tons terrosos que, por um lado, lembram as amêndoas de cacau e o chocolate, mas por outro, remetem ao sangue, à lama, ao chão.
Sete Vezes, “o Homem”, interpretado por Othon Bastos

“O filme ‘estrutura a representação da sociedade em espetáculo’, […] opera escolhas, organiza elementos entre si, […] constrói um mundo possível que mantém relações complexas com o mundo real […]” (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 52). A cena seguinte à queda do estrangeiro se passa na fazenda do Coronel Santana da Terra. Ao contrário da imagem de opulência e ostentação que saltam à nossa mente quando pensamos nos coronéis do cacau, a casa dessa personagem passa longe dessa idealização. Espaço amplo, mas de paredes brancas e velhas, bem como cheio de móveis sem luxo algum.
Há uma sincronia entre o “falido” lar do coronel Santana da Terra e o vazio de esperança para aquela região como um todo. Ruy Guerra sugere uma organização desses elementos, que fica mais latente na presença de uma personagem em específico durante essa cena: um banqueiro. Sereno também está na casa do coronel, foi lhe cobrar as terras que este prometera passar ao nome do marido dela, que estava morto. Ao ouvir o banqueiro lhe dizer que “Sereno não vale uma guerra” (evocando uma possível batalha entre o coronel Santana e os seus rivais, a família D’Água Limpa), o referido coronel promete a Sereno que “não lhe faltará casa e comida”, mas que em relação á escritura das terras ocupadas por Sereno e sua família, “cada coisa no seu tempo e à minha maneira” (DM, 1970, 10min35s – 12min51s).
O cenário da próxima sequência é um prostíbulo, onde o homem atingido, o estrangeiro, está tendo seus ferimentos curados. Esse ambiente funciona como um contraponto ao da cena anterior, pois é um lugar mais colorido, repleto de flores, móveis, tapetes, oferecendo um ambiente com mais detalhes em relação ao cenário vazio da casa de Santana da Terra (XAVIER, 1997). O ambiente é citadino como também é o outro clã poderoso da região: os d’Água Limpa. Em alusão a essa característica mais cosmopolita, o patriarca dessa família chama-se Urbano. Somos apresentados aos seus integrantes num armazém de propriedade deles, localizado em área urbana da região.
Nesse ambiente, Venâncio, o político da família, diz a Urbano que “não deu, o crédito está fechado, […] o cacau não vai subir. Só a Costa do Ouro esse ano triplicou a produção” (DM. 1970, 15min08s – 17min11s). Urbano responde que “o monstro está escancarando a goela”, mas que Venâncio “vencerá as eleições no município de qualquer jeito”, nem que seja preciso “vender arroba a preço de banana” para colocar dinheiro na campanha e assim derrotar Santana da Terra, “que está botando toda essa região a chumbo e fogo, se apoderando da mata, do cacau dos outros e da lei” (DM, 1970, 15min08s – 17min11s). Essa sequência nos remete a duas influências de Terras do Sem Fim, de Jorge Amado (1943) a conquista da mata e a rivalidade entre duas famílias de coronéis para apoderar-se da terra.
Após Terras do Sem Fim, Jorge Amado publicou a continuação desta saga no romance São Jorge dos Ilhéus (1944). Nele, o autor versa acerca da influência do capital externo na região Sul da Bahia, sendo causador da ruína das pessoas desse território, o que talvez explique a cena em formato de quadro na qual um aristocrata se apresenta como “homem de números”. Esta cena possui tons de cores diferentes das anteriores. Essa diferenciação também é notável na trilha sonora, que nesta cena adota arranjos mais circenses em comparação com as harmonias densas predominantes. Ruy Guerra parece querer satirizar essa figura, o apresentando de forma um tanto quanto deslocada dos outros personagens.
Representante da Whitaker & Son Cia Ltda., “o homem de números” diz que o Brasil “é o segundo exportador mundial, depois da Costa do Ouro, exportando 62 milhões e 584 mil toneladas, no valor de 93 milhões e 265 mil-réis”, sendo que os principais compradores são “Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Holanda e Suíça” (DM, 1970, 17min12s – 18min29s). Esta cena parece servir de prólogo para uma personagem que surge na sequência seguinte: a figura do exportador estrangeiro, que está sempre acompanhado do jagunço “Anjo” (interpretado pelo sambista e compositor Monsueto Menezes). Agora, duas figuras externas ao mundo de Santana da Terra e dos D’Água Limpa vêm influenciar as regras do jogo: o enigmático Sete Vezes e o exportador burguês. Um “traz consigo o enigma da sobrevida e a máscara grotesca, monstruosa, nas feridas”, ao passo que o outro “é a figura limpa, de início também enigmática, que não vemos se relacionando com os da cidade” (XAVIER, 1997, p.142).
A necessidade de fazer um cinema repleto de “metáforas visuais” implica no uso de imagens chocantes para dizer aquilo que não é possível dizer com a palavra, numa época ou num ambiente de repressão política. Numa dessas cenas, o Homem, agora intitulado Sete Vezes, pois “sete vezes foi baleado”, carrega um porco-do-mato nas costas e o mata. Ele, como descreve Xavier (1997, p. 147) “[…]esfaqueia o animal e se dirige à poça onde mergulha o bicho agonizante, de modo a que o sangue e a lama se misturem, o vermelho e o amarelo”. Para Albuquerque (2011) essas representações de instintividade e barbárie, serviriam para retirar dessas manifestações “[…] as imagens que mais chocam, que mais ressaltam sua diferença em relação à ordem futura que se quer criar” (p. 219).
Sete Vezes corresponde ao “homem sem rosto, sem identidade, apenas mais um retirante” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 225). Na referente obra citada, este trecho não corresponde a uma descrição específica de uma personagem do filme Os deuses e os mortos, mesmo que ela “lhe caia como uma luva”; este aspecto nos é relevante posto que evidencia uma imagem padrão nas produções do Cinema Novo que deslocam seu olhar para o Nordeste: a do migrante pobre buscando oportunidades em outro lugar que não é o de seu origem. Por vezes, esse lugar de destino é uma “terra braba, terra de tiro e de morte (ALBUQUERQUE, 2011, p. 225).
Sobre si, Sete Vezes afirma que “na cabala dos sete eu levei agora o chumbo e guardo ainda algum na carne, […] até hoje das misérias engoli a lama, o esterco, a urina, […] se a lei é o sangue, e o jogo é o ouro, no sangue e no ouro eu vou buscar a resposta” (DM, 1970, 40min04s – 44min18s). Apesar de acirrar um modus operandi violento, ele não é o responsável direto pelo colapso da sociedade local. Apenas se insere numa tradição já vigente. Após as mortes de dois membros da família D’Água Limpa, assassinados por Sereno e Sete Vezes, o Coronel Santana ressalta a este último que
“[…] a cada navalhada no corpo de Valeriano D’Água Limpa, brotava mais sangue dentro de mim e do seu próprio corpo, […] mas a condição de um império é ter suas raízes mergulhadas nas nódoas do tempo e do sangue. […] Perigo tem outras cores e outros gritos, ainda que traga o mesmo vermelho e o mesmo amarelo.” (DM, 1970, 1h02min10s – 1h06min10s)
Vermelho. O filme caminha para seu fim a partir de um belo plano-sequência dos jagunços perfilados e sentados na praça central de Itajuípe. O recurso do plano-sequência sugere “[…] uma tensão entre o movimento e a imobilidade (da câmera, dos personagens), […] entre a reunião e a dispersão (personagens no campo, personagens entre si)” (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 2012, p. 98). O diretor de fotografia Dib Lutfi – que executou como ninguém o slogan cinemanovista “uma ideia na cabeça, uma câmera na mão” [3]– lembrou que o filme “[…]praticamente em plano-sequência, mais barato, mais rápido, mais gostoso.” (BORGES, 2017, p. 247). No que se refere à câmera na mão e os movimentos circulares desta em torno dos personagens, Albuquerque (2011, p. 323) afirma que a utilização desses recursos no cinema “[…]servem para simular a verdadeira vertigem em que vivem os seus personagens; servem para dar ilusão de movimento a personagens que são eminentemente estáticos e teatrais”. Ruy Guerra optou por não filmar a cena do massacre, preferindo expor os jagunços feridos e agonizando no chão na cena seguinte. Sereno e Sete Vezes ainda matam, respectivamente, Santana da Terra e Urbano D’Água Limpa.
Depois de tomar posse do que “pertencia” ao coronel Santana, incluindo sua mulher e sua filha, Sete Vezes descobre através do exportador que as terras agora pertencem aos ‘londrinos’. Para ressaltar sua função de representante do capital externo, o negociata, sempre vestido de branco, diz a Sete Vezes que mesmo que fosse morto, não adiantaria, pois “[…]não destruiria a cabeça, que está fora do meu corpo. O cacau é o ouro e o ouro é a lei. […]Você é dono de um império. De um império oco dentro de outro império maior.” (DM, 1970, 1h27min – 1h30min20s). O uso do termo império nessa sequência expressa como os poderosos enxergavam aquela dinâmica econômica e política. Sete Vezes possuía um império, o do cacau. Em meio às guerras, esse império faliu e agora é oco. Está dentro de um império maior, o da exportação, com superávit para o capital externo, representado nessa cena pelo negociata londrino.
Amarelo. Após um breve take bastante aberto, o qual mostra pessoas em aspectos de transe misturadas à lama, o epílogo do filme é um cortejo com Sete Vezes à frente, galinha no braço (como fazia o coronel Santana); atrás dele vêm Soledad e Jura, respectivamente, ex-esposa e filha do coronel. “O cortejo se aproxima de um riacho, cuja água amarela, tingida pelo barro reitera a ausência de algo puro, cristalino, na terra do cacau, sempre permeada de lodo a embaralhar as coisas” (XAVIER, 1997, p. 158). Em entrevista, Ruy “[…] apontou o amarelo […] como a cor da doença e da morte” (BORGES, 2017, p. 246). Paulo José, produtor do filme, contou que, para conseguir o efeito, “[…] pegamos pó xadrez amarelo e espalhamos com um avião da Sadia que passava na rota de Caravelas […]. Na nascente, lá em cima, contrarregras furavam caixas de pó xadrez e jogavam no rio […] até acabar a filmagem. Foi uma loucura.” (BORGES, 2017, p. 246). Ainda mais excêntrica foi a sua decisão em relação à praça da feira, onde cenas importantes foram gravadas, incluindo a do massacre. Ao escolher as locações, Ruy adorara esta praça, que era de areia. No momento de filmar, “[…]uma velha reivindicação local tinha sido atendida e a praça fora asfaltada. Ruy exigiu que cobrissem tudo de areia novamente.” (BORGES, 2017, p. 247).
Jura, personagem da atriz Vera Bocaiúva, em cena da parte final do filme. Atenção para a cor do riacho

MORDAÇAS E IMPROVISOS
Uma atriz cubana que trabalharia com Ruy Guerra anos depois disse que ele “[…] era como um pintor que se põe a fazer um filme, no qual tem interesse no quadro como um todo, em onde incide a luz […], o pintor estava lá o tempo todo” (BORGES, 2017, p. 303). Isso acontece porque Ruy enxerga uma “[…] forma de encarar a estética como política. […] Se quisermos contar algo sobre uma realidade nova, tinha de ser de uma forma também nova.” (BORGES, 2017, p. 403-404).
Na década de 90, Ruy Guerra justificou narrar a luta pelo cacau nos anos 1920 porque se sentiu atraído pelo “[…] lado um pouco cíclico da colonização capitalista” (BORGES, 2017, p. 247). Porém, o Brasil vivia um regime ditatorial militar e não se poderia deixar as questões tão transparentes assim. Ruy disse que “[…] não se podia chamar gato de gato, tinha que se chamar o gato de um tipo de animal, felino […].” (GUERRA, 2002, p. 66). Ele ainda completa que os filmes que foram feitos nessa época, após a publicação do AI-5, “[…]procuraram driblar a censura. Criou-se um cinema inteiramente de metáforas visuais” (GUERRA, 2002, p. 66).
A elaboração do filme, por si só, já foi influenciada pelas crescentes repressões da ditadura. Um dos roteiristas do filme também seria responsável pelo cenário caso não tivesse sido preso. Ruy teria dito ao produtor Paulo José que “[…] estava cansado de fazer filmes herméticos […], quria fazer um filme bem popular” (BORGES, 2017, p. 244). A ideia inicial de fazer um faroeste havia continuado, porém não seria contada linearmente, pois segundo o próprio Ruy, aquela “[…] história já foi contada demais.” (BORGES, 2017, p. 244).
Adepto do improviso, Ruy Guerra tinha uma “[…] folha de anotações com por volta de quinze sequências” (BORGES, 2017, p. 244). Talvez para driblar ou censura, ou para satisfazer seu gosto por improvisar, o filme não tinha roteiro rígido, fechado. Ruy afirma que é seu filme mais teatral, que talvez Shakespeare tenha sido corroteirista. E não apenas por seu “[…] tom teatral […] na direção dos atores, nos diálogos literários” (BORGES, 2017, p. 245). Mais tarde, Ruy Guerra justificaria o estilo shakespeariano de Os deuses e os mortos como representativo de uma época de forte censura, recorrendo ao exagero “[…] porque nada se podia dizer numa forma direta.” (GUERRA, 2002, p. 66). Imagine falar sobre exploração de capitais, violência, num contexto de Guerra Fria em que esse discurso fílmico poderia ser classificado como “subversivo”, veículo de mensagens ligadas aos países vermelhos.
A respeito da fonte fílmica, devemos observar que “[…] oferece um conjunto de representações que remetem direta ou indiretamente á sociedade real em que se inscreve, […] um filme sempre ‘fala’ do presente.” (GOLIOT-LÉTÉ; VANOYE, 2012, p. 51). Sendo assim, podemos localizar Os deuses e os mortos, produção de 1970, num contexto de profusão de imagens acerca do Nordeste, principalmente vinculadas ao Cinema Novo. Como já vimos, essa produção estabelecia um diálogo com as imagens já cristalizadas de Nordestes, propostas principalmente pelo discurso naturalista, de Gilberto Freyre, e pelos romances regionalistas da geração de 30.
Não por acaso, o filme de Ruy Guerra apresenta a região nordestina como “[…] a terra do sangue, das arbitrariedades, região da morte gratuita, o reino da bala, do Parabelum e da faca peixeira.” (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2011, p. 144). Esses lugares-comuns que são base para essa ideia de Nordeste fazem com que fatos, personagens, imagens, textos pareçam estar localizados numa perspectiva para além ou aquém da própria história (ALBUQUERQUE, 2011). Essas imagens, enunciados, temas e, também, preconceitos, são utilizados pelo autor para “[…] tornar verossímil sua narrativa ou obra de arte” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 217), aproximá-la das representações consolidadas acerca da região Nordeste. Essa homogeneidade de imagens torna difícil a credibilidade das representações de um Nordeste sem coronéis, cangaceiros, jagunços ou figuras messiânicas.
“Se, por um lado, Os deuses e os mortos é uma produção fílmica dentro de um contexto mais amplo, pois busca dialogar com outras produções que trouxeram o Nordeste como temática, por outro a obra faz parte de um momento do cinema brasileiro, que Ruy Guerra chamou de “cinema de metáforas visuais”. Isso porque buscava utilizar as imagens para dizer determinadas coisas que a literalidade da palavra dificultava. Ruy ressalta que “[…] há sempre o perigo, nesse exercício, de se construir um discurso codificado que exige um público que domine as chaves da interpretação […].” (BORGES, 2017, p. 247).
A busca pela transmissão de determinada mensagem, difícil por si só, torna-se ainda mais desafiante quando temos que pensar outras formas de dizer aquilo que queremos dizer. Paulo José não deixou de ironizar, afetuosamente, os anseios populares do diretor: “E isso porque Ruy tinha dito que estava cansado de fazer filmes herméticos” (BORGES, 2017, p. 247). Se o público e a equipe podem ter estranhado o hermetismo, esse foi um poderoso aliado no momento de avaliação da censura. O parecer de autorização relata:
“Filme calcado no simbolismo focalizando uma época, a queda do império do cacau no Sul da Bahia. Dentro desse contexto, o autor mostra de forma sangrenta, até em excesso, a dissolução das famílias e do poder econômico da região. Há certa pregação política, mas, a nosso ver, fora da realidade.” (BORGES, 2017, p. 247).
Deslocar a ação para décadas passadas, fazendo a história se passar no meio rural é característica de alguns filmes do Cinema Novo, ao menos até a metade da década de 70. Mesmo colocando o Nordeste na tela e expondo as contradições dessa região, os cineastas, num primeiro momento, concentraram sua artilharia no meio rural, não abordando com a mesma intensidade as contradições sociais da vida urbana e industrial. Isso também pode ser justificado pelo contexto daquela época, pois mesmo sem ignorar as contradições e polêmicas, pode ter havido um pacto entre os intelectuais de esquerda e o desenvolvimentismo. Este pacto,
“[…] em nome do nacionalismo e da ‘revolução burguesa’, levou os cineastas a desconsiderarem os temas que pudessem ser tidos como ‘delicados’ por essa burguesia que se dizia nacionalista e industrialista. Donde a eliminação de temas como a cidade, a burguesia, a indústria, o proletariado urbano, e o refluxo da temática para as áreas rurais, a crítica da estrutura agrária e a miséria do campesinato. As áreas rurais também poderiam se prestar a assuntos ‘delicados’, tais como as organizações populares não controladas pelo governo. Daí o refluxo da temática para os anos 1930-1940.” (BERNARDET, 2008, p. 98).
Os deuses e os mortos sagrou-se vencedor de muitos prêmios e, ainda hoje, é exibido em mostras e retrospectivas. No ano de sua exibição, a revista francesa Cahiers Du Cinéma, o escolheu como um dos sete melhores do ano na França. No Festival de Brasília, o Candango, em 1970, levou os prêmios de: melhor filme, melhor direção, melhor fotografia, melhor ator (Othon Bastos), melhor atriz (Dina Sfat) e melhor trilha sonora (Milton Nascimento). Mesmo assim, ficou restrito a alguns circuitos de exibição, ganhando o apelido, dado pelo produtor Paulo José, de Os deuses e os falidos.
Um espectro sem rosto como destaque no cartaz do filme “Os deuses e os mortos”
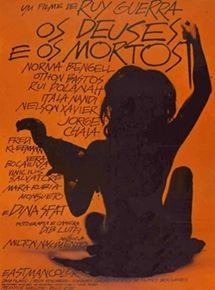
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Bombardeada por imagens, a humanidade vê seu leque de representações aumentar. A presença de cada vez mais imagens torna importante percebê-las enquanto tipos textuais, que devemos interpretar e decodificar. Charges, quadrinhos, filmes, séries, cultura cyberpunk, fotografia: são várias as possibilidades para que historiadores e outros estudiosos tratem de objetos iconográficos com a devida atenção e importância.
Para a escrita desse texto, propus uma análise a respeito da função das cores no filme Os deuses e os mortos, de Ruy Guerra, como desdobramento de uma pesquisa em desenvolvimento no PPGH/UESC. Os diversos componentes envolvidos na feitura de um filme – cores, iluminação, montagem, enquadramentos – são elementos estéticos constituintes da linguagem cinematográfica. Por vezes, esses elementos convergem de forma homogênea numa análise. Algumas vezes, não. Por isso, é importante frisar que a pesquisa realizada a partir de fontes fílmicas deve “[…] analisar o filme juntando o que é filme – planos, temas – com o que não é filme – autor, produção, público, crítica, regime político” (KORNIS, 1992, p. 244). Essa pode ser uma boa pista, ainda que não existam “receitas prontas” quando vamos trabalhar com os filmes na pesquisa histórica.
Em 1977, numa entrevista para a reviste Ele & Ela, Ruy Guerra afirma ter sugerido que a palavra “fim” não entrasse no final. Na versão que assisti, disponível no YouTube, a palavra aparece. Mas com jeito de ser incluída depois, pois até mesmo a cor e a fonte da letra não têm nada a ver com as imagens e textos que rolaram por aproximadamente cem minutos. A sugestão de Ruy parece querer comunicar que aquela situação retratada não tem início, nem fim. Quando Sete Vezes chega à região do cacau, esta já cheira a chumbo e pólvora, já foi pintada de lama e sangue.
Ao fim, Sete Vezes cumpre o ciclo se juntando às figuras fantasmagóricas. Elas formam um círculo em volta do Homem, que, ajoelhado na terra, se põe como alimento para o barro, mas também lembra, para ressaltar a ambivalência das imagens deste filme, “[…] um feto de bruços, na mesma posição que o vimos lá no início entre os trilhos da estrada de ferro, caçado pelos jagunços. Fecha-se o círculo da morte adiada […].” (XAVIER, 1997, p. 159) e um mito natimorto está pra nascer.
NOTAS
[1] Trecho de uma música (ainda sem nome) composta por mim depois de assistir Os deuses e os mortos pela primeira vez, quando ainda nem imaginava desenvolver uma pesquisa com o mesmo.
[2] OS DEUSES e os mortos. 03min13s – 04min30s. Direção de Ruy Guerra. Rio de Janeiro: Daga Filmes Produções Cinematográficas, 1970. 1 vídeo (98 min). Publicado pelo canal Marcio Pastore. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eeEJbK7rPE4. Acesso em: 15/10/2020. Para outras citações de diálogos do filme, usarei o código DM.
[3] Expressão cunhada por Glauber Rocha, cineasta mais conhecido do Cinema Novo. Essa expressão é geralmente relembrada para caracterizar o movimento e sua defesa da utilização dos meios de produção artística com o objetivo da transformação social.
REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
BERNARDET, Jean-Claude. Historiografia clássica do cinema brasileiro: metodologia e pedagogia. 2 ed. São Paulo: Annablume, 2008.
BORGES, Vavy Pacheco. Ruy Guerra: paixão escancarada. São Paulo: Boitempo, 2017.
PAULINO, R. A. F. (2002). Cineasta da palavra (Entrevista com Ruy Guerra). Comunicação & Educação, (24), 2002, 60-78. Acesso no link: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9125.v0i24p60-78 em 02/06/2020.
KORNIS, Mônica Almeida. História e cinema:um debate metodológico. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1992, p. 237-250.
VANOYE, Francis. Ensaio sobre a análise fílmica. Tradu
ção de Marina Appenzeller. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012. – (Série Ofício de Arte e Forma).
XAVIER, Ismail. Os deuses e os mortos: maldição dos deuses ou maldição da história?. Ilha do Desterro, Florianópolis – UFSC, n. 32, 1997, p´. 131-161. Acesso no link: https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/article/view/8436/7965 em 30/03/2020.
REFERÊNCIA FILMOGRÁFICA
OS DEUSES e os mortos. Direção: Ruy Guerra. Produção: Daga Filmes Produções Cinematográficas. Brasil: Columbia Filmes, 1970. 1 vídeo (98 min). Publicado pelo canal Marcio Pastore. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eeEJbK7rPE4. Acesso em: 15/10/2020.
→ SOBRE O AUTOR ←

MICHAEL SILVA ROSENO
Mestrando em História do Atlântico e da Diáspora Africana; Pós-graduando em Especialização em História do Brasil (UESC/BA).. Graduado em Licenciatura em História (UESC/BA).E-mail: michael.roseno1212@gmail.com.